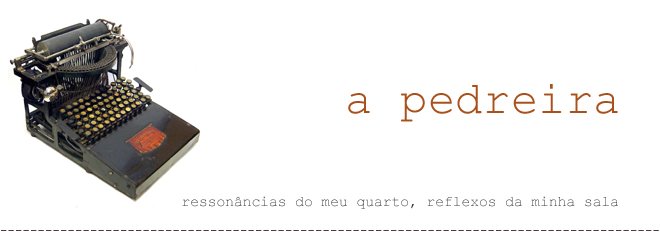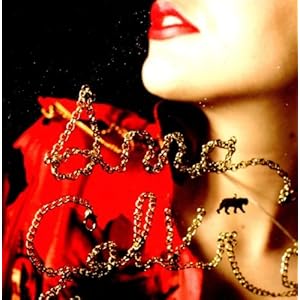PJ Harvey, Let England Shake
Vem aí um texto opinativo, prepara-se mais uma vez a caçadeira dos rótulos. Mas desta vez a missão é difícil: é um artigo sobre PJ Harvey. Pior (melhor), "Let England Shake" dá-nos - num temporal que muda a morfologia toda que lhe conhecíamos - uma metamorfose mais radical do que é normal na grande camaleoa do indie (ou seja lá o que isso for).
O alvo dos rótulos fica desfocado. E anda outra vez às voltas, tal como PJ Harvey. Mas o alvo está perdido, PJ Harvey não. Aquilo que pensamos que a cantora de Dorset é, afinal já é outra coisa. Quando pensamos que já está num síto, afinal já está noutro bem diferente. Aquela pós-grunger de ar descuidado (ver "Dry" e "Rid of Me") pode ser tomada por uma senhora glamourosa (ver "To Bring You My Love") que sabe maquilhar-se melhor que muitas estrelas de cabaret. A criatura misteriosa que nos debita personagens femininos (ver "Is This Desire") é também uma mulher deslumbrada e optimista que adora o seu Eu (ver "Stories from the City, Stories from the Sea"). E quando nos familiarizamos com uma PJ Harvey rebelde pós-punk a berrar aos saltos 'Who the Fuck?' (ver "Uh Huh Her"), surpreendemo-nos por ver no mesmo corpo uma pianista baladeira folk mais moderada (ver "White Chalk").

Que PJ Harvey temos diante de nós em 2011, ao oitavo álbum "Let England Shake"? Também não sabemos bem. À superfície é um PJ Harvey subitamente politizada, a olhar para a sua Inglaterra de trás para a frente a partir da sua casinha de Dorset, mas ainda assim arriscamo-nos a escrever algum disparate. A abstração temporal dos temas das canções é total - do cheiro a trincheiras da I Guerra Mundial aos capitães de outro qualquer século, a temas actuais. Mas é provável que cante a despedida da Inglaterra tal como a conhecemos.
PJ Harvey muda de visual e de som, mas não se afasta do seu conselho de fiés colaboradores, desta vez composto pelos multi-instrumentistas John Parish e Mick Harvey, e pelo produtor Flood, e com o auxílio do menos habitual baterista Jean-Marc Butty. Há um inovador contraponto com a voz masculina - num diálogo com Polly Jean que é uma junção de forças. E samples étnicos e tribais de pedacinhos do mundo à volta da imperial britânica PJ Harvey
Munida de uma autoharpa e de um canto mais antológico, PJ Harvey está num deslumbrante estado de omnipotência vocal, tão folk quanto erudita, enquanto nos vai dando dicas do imaginário de uma Inglaterra rural e victoriana. Podiamos vaticinar-lhe, por isso, uma aproximação estética às puríssimas manas Shirley and Dolly Collins, mas PJ Harvey não é nenhuma Jane Austen do rock. A sua folk fugidia está já demasiado individualizada, e tem o acréscimo de uma bagagem rock (que as Collins nunca tiveram) que faz parte do seu sangue, incluindo neste disco.

Podiamos ainda atrevermo-nos em denunciar uns toques de Cocteau Twins em interpretações mais etéreas como no arrasador 'The Glorious Land' ou em 'Written on the Forehead', mas nem assim acertamos. A dimensão de PJ Harvey não cabe num expositor da mítica 4AD.
O seu rock com cheiro a scones, chá e maresia da costa sul britânica foi palmilhando caminho, possivelmente desde "Is This Desire" (ou talvez mesmo desde "To Bring You My Love"). Até que chegamos a este desarmante disco, que nos mostra uma PJ Harvey virada do avesso, com uma folk virgem, impossível de ser encaixada em qualquer outro modelo que conheçamos.

Este toca e foge é um jeito dylanesco – o homem das canções fok de protesto que era afinal um rocker pró-Beatles que era afinal um countryman anti-festivais que era afinal o quê? Se os guias afunilam todos nas mesmas considerações, cristalizados nalgumas das primeiras imagens que os artistas deles deram (sempre o Blonde on Blonde como obra máxima de Bob Dylan, sempre o Rid of Me como obra máxima de PJ Harvey), a realidade, tal como estes artistas, é mais variável, e ditou que o disco mais majestoso de Dylan fosse feito com 56 anos de idade (Time Out of Mind), ou que o melhor álbum de Polly Jean tivesse sido feito ao fim de 20 anos de carreira (Let England Shake), mesmo que isso já escape às sinopses das suas vidas.
E enquanto a Europa e Inglaterra se desmoronam, PJ Harvey fugiu-nos outra vez, mas já encontrou um rumo. Ninguém a apanha.
Artigo muito semelhante ao publicado no site Cotonete.